
Carnaval
António Cagica Rapaz
Nos anos cinquenta e sessenta, a sociedade portuguesa regia-se por normas, regras e valores bem diferentes dos que hoje predominam. As mentalidades eram mais rígidas, a influência da Igreja muito mais sensível, e o Carnaval surgia como um curto período de libertação de convenções, espartilhos morais e preconceitos sociais. E, sem cair em exageros, Sesimbra divertia-se...
O meu pai contava-me brincadeiras de gosto mais ou menos duvidoso, roubos de galinhas, besuntadelas mal cheirosas no corrimão do Grémio ou na fechadura da porta de determinado senhor que costumava colar os lábios no orifício para chamar pela mulher. Todos nós pregámos partidas nem sempre muito recomendáveis, mas era assim, é Carnaval não se leva a mal.
Com o tempo, acabamos por ver as coisas com outros olhos e, muito provavelmente, o R. não voltaria a queimar aquele pedaço de malagueta numa tampa de caixa de pomada para o calçado. Foi no Grémio e o fumo asfixiante e tóxico produziu efeitos tais que o R. chegou a ter receio, perante o quadro dantesco de olhos inflamados, tosse, espirros e outras ventosidades ruidosas que deixaram prostrados alguns prezados consócios.
Recordo-me de ter subido ao sótão do mesmo Grémio e ter despejado cá para baixo pós de espirrar sobre a mesa à volta da qual se disputava animada partida de “sintético”. O festival de espirros, imprecações e recriminações foi indescritível, tendo o Alfredo Filipe escapado por uma unha negra ao linchamento.
O mesmo lhe sucedeu em tarde chuvosa, num Central fechado e cheio de fregueses encostados aos bilhares numa cavaqueira que os pós de espirrar transformaram num inferno. E também desta vez o Alfredo estava inocente. Outros pecados teria, porventura, por confessar...
Estes episódios ocorriam com frequência naquele triângulo das Bermudas localizado entre o Grémio, o Central e o estabelecimento do mestre Adelino. A taberna e a barbearia constituíam um autêntico covil de malandrice, palco e fonte de brincadeiras hilariantes, o lápis do Lopes, os rabos pendurados a preceito e, sobretudo, os porta-moedas pregados no alcatrão. As mulherzinhas do campo vinham vender à praça montadas em burros de que desciam para deitar a mão ao porta-moedas. Logo a impiedosa rapaziada saltava, gritando em coro “Larga! Larga!”, o que provocava a cólera e o despeito das pacatas camponesas que perdiam a cabeça e nos insultavam abundantemente, sugerindo até locais onde poderíamos meter os ditos porta-moedas.
Um dia, quem caiu foi o bom João Vaivém que se baixou para apanhar um relógio. No calor da reacção, o Zé Júlio gritou “Larga, urso” e foi multado em trezentos mil réis que a irmandade ajudou a pagar.
Escasso é este espaço para tanta libertinagem, pelo que aconselhável se torna passarmos ao capítulo dos bailes, prato de resistência do nosso Carnaval. Dificilmente se poderá contestar que, naquele tempo de austeros costumes, os bailaricos eram a grande oportunidade para aproximações entre pessoas do sexo oposto, a pretexto hipócrita de um passo de dança. Em verdade, era (sobretudo para raparigas e mulheres) a ocasião tão desejada de dar largas a todo um leque de apetites, sedução, intrigas, mistérios, mistificações, enredos e aventuras mais ou menos arrojadas, chamemos as coisas pelos nomes. A máscara desinibia, dava confiança, soltava as línguas, estimulava a imaginação, alargava horizontes, excitava os sentidos, dava corda ao diabinho que existe em cada um de nós.
Porém, os casos de maior atrevimento não passavam de inocentes brincadeiras quando comparadas com o que vemos nos dias de hoje, à nossa volta, à luz do dia, de cara destapada, o ano inteiro...
Por isso, o que ficou em nós foi, sobretudo, a recordação de um clima mágico, de excitação e fascinação, expectativa e fantasia, com o engenho e a irreverência das raparigas que faziam, elas próprias, os trajes que depois trocavam por forma a porem a cabeça à roda aos rapazolas atrevidos. Mil episódios haveria para contar, a peça de cerâmica do Júlio Mouco, o cartucho de papel, com água, com que a Maria Vitória assustou o António Vidal, a ida da Carlota parteira a minha casa, os telefonemas intrigantes, eu sei lá.
Ficaram para a história quadros deliciosos como o Zé António da Parteira a dançar, desvairadamente apertado, mordendo o lábio, com uma máscara que não era outro senão o Zé Albano.
A magia burlesca do Carnaval atinge um alto expoente no engano em que viveu durante três noites uma figura grada da terra, o Doutor J., que dançou e tentou seduzir uma máscara que, afinal, era a velha D., magra, seca, enrugada, mulher a dias do serviço do próprio Dr. J.. A tia D. comeu, bebeu e dançou durante três noites, Cinderela galhofeira. Brincou realmente ao Carnaval e ajudou a consolidar aquilo que era a sua essência, o mistério e a ilusão...
2000



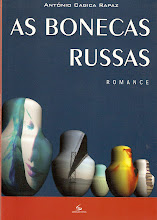




O Carnaval de hoje pode não ter o mesmo sabor.
ResponderEliminarMas a maneira como se descreve neste texto a vivência de uma época épica em Sesimbra deixa qualquer um maravilhado.
Assim, às claras, sem qualquer máscara ou disfarce, só o prazer de o ler e sentir o gozo que deu ao Autor escrever estas linhas (quase tão forte como o gozo que me deu lê-las, presumo)!
Boa noite, ó mestre!