
Carlos*
António Cagica Rapaz
No início dos anos 50, nós morávamos no prédio do Gá, na rua da Fé, quando o Pedro Muleta (filho do velho Justino das barracas da praia da doca) procurou o meu pai para lhe pedir emprestados três mil escudos. Recordo-me das suas palavras, podia ter falado em três contos, mas não, foi três mil escudos que disse, talvez numa tentativa tão eufemística de suavizar a dimensão do pedido. Na altura, era uma quantia avultada, e o bom do Pedro ter-se-á fiado no aparato das pedreiras de gesso, ignorando que, na realidade, elas não passavam de ilusão e de abismos onde o meu pai só escavou desgraça. Por isso mesmo, despediu-se como entrara, cabisbaixo e amargurado, como todos quantos, por infortúnio seu, precisam de pedir…
Da conversa, porém, resultou a nossa mudança para o rés-do-chão da moradia da família Justino, situada entre as vivendas do patriarca Palmela, a norte, e do Dr. Fernando Lopes, a sul. Pouco tempo depois, a necessidade obrigaria à venda da moradia que foi comprada pela família Palmela por uns magros 48 contos.
A D. Beatriz foi marcante no panorama do ensino primário, tendo-se distinguido pela sua competência e pela forma como castigava os alunos. Foi professora da minha mãe e minha também. Cheguei a comer à sua mesa, intimidado, quase aterrorizado, entre a D. Beatriz e o austero Palmela. Era um ambiente de pesadelo e, anos mais tarde, essa sensação viria a confirmar-se quando o herdeiro intentou contra a minha mãe um vergonhoso processo de despejo por (como justificou) precisar da casa para passar férias…
Felizmente, a sul, o horizonte era bem diferente, e a casa do dr. Fernando Lopes e da D. Stella foi, para mim e para a minha irmã, um oásis de paz e conforto, um verdadeiro porto de abrigo. Teria eu uns oito anos quando conheci o Carlos Manuel Gouveia Lopes, um rapazinho amoroso, com quatro anos e cabelo encaracolado…
O muro que separava as nossas casas declinava na extremidade próxima da rua, na zona da varanda, e cedo aprendi a saltá-lo para ir brincar com o Carlos, naquele universo deslumbrante que era uma casa bonita e abastada onde fui tratado com inesquecível ternura por essa Senhora maravilhosa que era a D. Stella.
Com o Carlos, brincávamos horas infinitas, em intermináveis partidas de monopólio, aos caixeiros-viajantes que se deslocavam de triciclo, ao mecano e ao lego, às mil diabruras próprias da idade. Nunca tivemos a menor disputa, nunca teve caprichos de menino rico, nunca me fez sentir diferente, e no seio daquela família encontrei hospitalidade, protecção e ajuda afectiva.
Depressa compreendi que a vida é assim feita, uma sociedade sem classes só existe no reino da utopia. E esta realidade até nem custa a aceitar quando sentimos a nosso lado pessoas como a D. Stella que não se limitava a rezar o terço que nós, enfadados, acompanhávamos murmurando “rogai por nós”. Ela era a bondade, a gentileza, a doçura, o amor, tudo reunido numa pessoa de rara beleza, física e espiritual.
Às quintas-feiras, infalivelmente, o dr. Fernando Lopes e a D. Stella iam a Lisboa e para nós era dia de festa porque, como dois principezinhos, almoçávamos na varanda, servidos pela Álvara. Depois, entregávamo-nos ao nosso desporto favorito, de cócoras, como os guarda-redes do hóquei, tendo os vasos por balizas e utilizando uma raqueta de ping-pong. Assim íamos marcando uns golitos até à hora do lanche que incluía sempre um copo de deliciosa groselha. Certa noite, clandestinamente, abusámos da “Marie Brizard” e acabámos no quintal, eufóricos e incansáveis, escarranchados em cadeiras de praia que, uma vez fechadas, faziam de mota ou de cavalo. Tudo era novidade e regalo para mim, pelava-me por tão boas coisas. Partilhei a intimidade da família, brinquei, convivi e aprendi a viver em casa da tia Stella, como me habituei a tratá-la, em particular desde que conheci o tio Nuno e o tio Jó…
Certo dia, o Carlos teve uma saída que já deixava entrever um espírito fino e imaginativo. Ao ver passar o meu pai e desconhecendo o seu nome, saudou-o desta forma original e afectuosa: “Boa tarde, senhor pai do Tó Manel”. A nossa cumplicidade foi sempre sem falha, a nossa amizade sem mácula. O Carlos teve a felicidade de ter nascido no seio de uma família maravilhosa, entre o amor e o carinho da mãe e a presença forte, tranquilizadora de um pai que garantia estabilidade e segurança. O futuro foi, para ele, desde muito cedo, um mar tranquilo a perder de vista, sem incógnitas nem angústias, feliz e merecidamente.
Andámos juntos no colégio, e o Carlos foi meu cúmplice num namoro que marcou a minha vida. Mais tarde, acompanhei de perto os primeiros passos rumo a um casamento que haveria de fazer dele um jovem avô feliz.
Dois anos depois, foi a vez do Carlos e da Ana apadrinharem o meu casamento, era a continuação da nossa boa cumplicidade…
Com os anos que por ele passam sem deixar marcas, o Carlos ganhou a atitude segura do pai e conservou o encanto da mãe. Apesar de ser herdeiro de um nome, de um estatuto social e de um património, soube escolher o seu caminho, criar um estilo, afirmar-se. O tempo foi sublinhando uma distinção com o seu quê de britânica, uma elegância descontraída, uma classe natural, um toque aristocrático a que nem faltou, durante anos, um bonito bigode. Não precisou o Carlos de aprender a seduzir nem a colocar a voz bem timbrada para entrar na política, opção que foi para mim uma surpresa, talvez por saber que não tem a menor necessidade de favores nem de benesses, porventura por o julgar (ou imaginar) tímido, imagens de infância que nós teimamos em conservar inalteradas, como se o menino que brincava com o mecano não fosse agora um homem feito, um engenheiro com carreira.
O Carlos é, há vários anos, uma figura pública prestigiada e nunca deixou de ser um homem encantador e caloroso. Nem a política o estragou…
____________
*Publicado no n.º 29 de Sesimbra Eventos, de Fevereiro/Março de 2004.



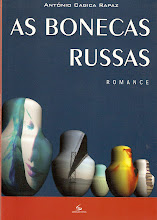




Sem comentários:
Enviar um comentário