
Isabel*
António Cagica Rapaz
A autoestrada é um longo tapete que se vai desenrolando à nossa frente, cinzento e interminável, monótono e eficaz. Por vezes temos mesmo a sensação dos ciclistas que pedalam numa bicicleta colocada sobre rolos, andamos muito sem sair do mesmo sítio. E, de repente, apercebemo-nos de que chegámos, porque pagamos a portagem e porque estamos no fim do percurso. Nesse momento sentimos uma mistura de alívio e decepção. Alívio, porque chegámos bem e depressa. Decepção, porque passámos ao lado, longe dos caminhos antigos. Durante anos percorremos itinerários, habituámo-nos a atravessar povoações, a identificar curvas, rectas, subidas, cruzamentos, a descortinar paisagens, vales frondosos, uma casinha no alto do monte, um moinho, pessoas na berma da estrada ou à volta das casas, os mil pormenores que constituíam o quadro da nossa viagem.
Viajar de carro não era apenas avançar por uma estrada. Pelo contrário esta fazia parte de um espaço global, era um dos seus elementos. Seria menos funcional, menos rápido, menos eficaz, mas mais humano, mais bonito, mais poético.
Com os anos, fomos integrando aquelas imagens no nosso universo cognitivo, aquele café antes da curva, aquela fonte a meio da subida, aquele outeiro para lá do riacho…
Da mesma forma integramos no nosso universo afectivo as pessoas que conhecemos, de quem gostamos. A partir de certa altura elas vão ocupando um lugar determinado no nosso presépio interior, estão cá dentro, fazem parte de nós, habituamo-nos a viver com elas, estão em nós. Como os brinquedos da nossa meninice que conservamos na prateleira imaginária do nosso quarto. Estão ali, estão bem…
A vida leva-nos para aqui e para ali e acontece-nos recusar a estrada antiga, desprezar a paisagem encantadora, perdemos de vista o carro de bois a caminho da eira e lá vamos, a alta velocidade, cheios de pressa de chegar. Para depressa partirmos. A viagem, o espaço e o tempo, tudo morreu. Só conta chegar e partir…
Que tristeza se um dia rasgarem uma pista infernal entre Sesimbra e Setúbal que nos roube o encanto do Alto das Vinhas, o perfume próximo da Arrábida, a frescura da Aldeia de Irmãos, o recato de Oleiros. Quando preferimos a autoestrada cedemos à tentação, desumanizamo-nos um pouco.
O mesmo sucede com a amizade, quando a distância se coloca entre nós, quando começamos a ver-nos só espaçadamente. É certo que os nossos amigos continuam cá dentro, fazem parte de nós, mas, de algum modo, vão-se transformando em estatuetas, entidades difusas, imagens fixas, padrões, símbolos, pouco mais que irreais. No fundo, é uma forma derrapante, se não de esquecimento, pelo menos de letargia e diluição. Como alguém que sabe que o mar é azul e bonito e, por isso, resolve que não é preciso vê-lo todos os dias…
Meu caro António, todas estas ideias me atravessaram o espírito, assim, confusamente, desordenadamente, há tempos, numa autoestrada, algures, perto de Leiria. Por associação de recordações, lembrei-me de Coimbra, da estrada antiga, do comboio que parava em todas, Albergaria dos Doze, Alfarelos, Taveiro. Lembrei-me de Coimbra, lembrei-me de vocês, lembrei-me intensamente da Isabel…
Há muito não me acontecia, chorei e sorri, porque a imagem da Isabel é sempre um sorriso luminoso, maravilhoso, resplendente. Chorei enquanto conduzia, enquanto desfilavam à minha frente quilómetros e recordações, avançando na estrada, recuando no tempo.
Quando deixei, pela primeira vez, a minha casa fui por essa estrada fora, a caminho de Coimbra aproveitando a boleia de uns amigos que iam para o Porto. Esse mesmo Porto onde anos depois vocês viveriam e onde nos voltaríamos a reunir.
Praticamente saí da minha para a vossa casa, fui de imediato adoptado, passei a ser o filho mais velho. Tive a sensação de entrar num romance de Eça de Queirós, com as vossas raízes beirãs, a memória de Oliveira do Conde, a presença do senhor abade Varandas, a nobreza natural da avó Natália de sorriso bondoso, os fortes laços familiares, o calor da lareira junto da qual o Kari se enroscava até o Zé Manel o desafiar para as diabruras próprias da sua idade traquina.
E pensar eu que não fui mais cedo a vossa casa porque imaginava que um director de fábrica de cerveja tinha de ser velho e barrigudo! Felizmente o Afonso apareceu e obrigou-me a acompanhá-lo, levou-me até vós. E a Isabel, logo no primeiro dia, ditou a sentença, fiquei obrigado a visitar-vos todos os dias. Conivente, o trolley que vinha do Calhabé conhecia bem a estrada da Beira e, ao fim da tarde, depois do treino da Académica, parava à vossa porta. Só me custava, mais tarde, ter de subir a rua do Quebra Costas, do arco de Almedina até ao largo da Sé Velha, para chegar ao meu quarto, na travessa do Cabido. Era Coimbra…
Anos depois foi o Porto, outra etapa na carreira profissional do António e, para mim, paragem ocasional durante o serviço militar. Assim voltei ao seio da família Fonseca. O Kari crescera menos que o Zé Manel, mas ladrava alegremente quando brincava connosco. A Graça começava a refugiar-se na Ressaca, café fronteiro ao mar, ali na Foz. Era em 1970…
Depois foi a desintegração, cada um para seu lado, a avó Natália disse-nos um adeus derradeiro, o padre Varandas afastou-se, subindo na hierarquia, o António Afonso abalou para a vida, eu ausentei-me demoradamente. Ficaram vocês, o António e a Isabel, a energia calorosa e a ternura frágil, a bondade vigorosa e o sorriso enternecedor.
O António gosta de música suave, aprecia a bossa nova. Recordo-me da poética confissão do desafinado: “fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se sua enorme ingratidão”. De alguma maneira, foi o que fiz, fotografei-vos, fiquei com vocês cá dentro, mas a ingratidão terá sido minha porque não fiz tanto esforço quanto deveria para vos ver mais vezes. Contentei-me com o sorriso da Isabel, a recordação da sua bondade, da sua ternura, das manifestações de afecto que conservo intactas. É bom sabermos, sentirmos que gostam de nós, é bom termos amigos assim, é bom gostar de pessoas como vocês, mas é preciso dizê-lo, é preciso mostrar essa amizade, praticá-la, fortalecê-la, saboreá-la, apertarmo-nos nos braços, estarmos juntos, partilharmos emoções. Não chega sabermos, não chega termos a certeza dessa amizade, é preciso vivê-la. Porque um dia o telefone toca em nossa casa e não é a Isabel, não será nunca mais a Isabel, a Isabel já não está, nunca mais estará. E só então percebemos … Julgamos que nos habituamos à ideia da fatalidade, do inevitável, julgamos que é assim, quase aceitamos que é a ordem natural das coisas. E fomos colocando a Isabel na tal galeria de recordações queridas. Queridas mas distantes, prematura e estupidamente distantes. E, de repente, em plena autoestrada, algures, acordamos, tomamos consciência, temos a revelação fulgurante da proximidade e da verdadeira importância que uma pessoa tem na nossa vida. Com maravilhosa intensidade senti, recordei o sorriso luminoso da Isabel. Recordo nitidamente a sua voz, as expressões tão suas, agora que a fui buscar, sem saber como, à galeria onde a tinha colocado, também inconscientemente.
A amizade não é chegar, é viajar, percorrer passo a passo, de mão dada, de braço dado, de abraço em abraço, próximos, presentes, todos.
Amizade não é acenar de longe, é parar, para abraçar, para dizer com e sem palavras que gostamos. Não sei se vos disse, se fui capaz de vos dizer, como gostaria e como devia, quanto gosto de vocês. Desculpa António, perdoa-me Isabel…
____________
*Publicado na edição de Setembro de 1995 de O Sesimbrense.



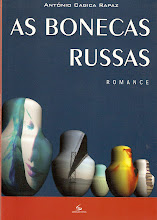




grande hino à amizade...
ResponderEliminarsubscrevo inteiramente o anterior comentário. comovente hino à amizade, que faz pensar e reflectir.
ResponderEliminar