
Zé Tucha: foto tirada do blogue Sesimbra
No fundo*
António Cagica Rapaz
Há tempos, numa gloriosa manhã de domingo, bateram-nos à porta, na Aiana, dois mensageiros de Jeová. Chovera durante toda a semana e aquele sol radioso, o perfume da terra molhada, o ar puríssimo e a luminosidade do céu lavado pela chuva benfazeja, tudo isso fazia daquele domingo uma prova suficiente da existência de Deus, de Jeová, de Maomé ou de Buda, à escolha, segunda as crenças.
Não calhou ser eu a ir à porta, e abstive-me de intervir na ladainha dos pacientes e pertinazes pregadores, tendo apenas retido uma frase que me deixou pensativo. Fiquei a saber que, para as testemunhas de Jeová, a alma morre com o corpo. Admito que haja alguma ambiguidade entre os conceitos de alma e espírito, que conviria aprofundar a reflexão, mas não desejei esclarecer o assunto e apenas aproveito o mote para divagação.
Esta convicção dos seguidores de Jeová (a menos de outra interpretação) parece encerrar uma mensagem tenebrosa, e deixa-me alguma curiosidade quanto à maneira como encaixarão esta ideia num quadro positivo de vida. Seria certamente interessante ouvir a argumentação que utilizam para conseguirem transmitir esperança e optimismo, encontrar sentido para uma vida sem prolongamento para além da morte.
Se, de facto, a alma morre com o corpo, o nosso horizonte é curto, o fim do filme da nossa vida não traz qualquer surpresa nem a menor expectativa, muito menos uma esperançazinha de eternidade. Como todos sabemos, estamos condenados a morrer, é mesmo a única certeza que a vida nos dá. Ora, se uma religião nos diz que a morte é o fim, do físico e do espiritual, que sentido poderemos encontrar para a vida?
Este tipo de congeminações poderia tornar-nos pessimistas e macambúzios, pelo que é aconselhável certa prudência na aproximação a assuntos desta natureza morta.
Há tempos, deparei na praça (palco privilegiado de todos os encontros) com o José Embaixador, figura notável da nossa terra, bombeiro, mercador de matacões, bolos e pastéis, e também patriarca dos servidores de Jeová.
Confesso que nunca vislumbrara no nosso Zé Tucha preocupações de ordem espiritual, mas admito perfeitamente que em qualquer altura possamos ser levados por uma onda de misticismo. Cada um tem o direito de acreditar, pregar ou prestar culto segundo as suas convicções, desde que respeite o seu próximo a quem deve reconhecer igual liberdade de pensamento e de expressão. Apesar de tocado pela graça de Jeová, o Zé Tucha não perdeu a outra graça, a sua verve malandra, o bom humor que sempre lhe conhecemos. E disso me apercebi no nosso diálogo na praça. Na sua linguagem pitoresca e metafórica, lá me foi dando conta da sua saúde que já não é o que foi, tendo sido obrigado a usar um “pace maker” para manter o coração a funcionar em bom ritmo. Mas não se ficam por aí os seus constrangimentos. Mais inconformado ainda me pareceu quando rematou, em confidência e desabafo: “Olha, o pior é que já nem vou à tona”.
Habituado às suas excêntricas figuras de retórica, deduzi que já não se sentisse em forma, à tona de água, menos vigoroso, com menos destreza, enfim, algo parecido. Porém o seu sorriso maroto deixou-me, mais tarde, a impressão de ter ouvido mal…
Seja como for, a brejeirice lendária do Zé Tucha mostra que não está muito preocupado com a dicotomia alma-espírito e que conserva uma perspectiva optimista e hedonista da vida.
Aqui chegados, coloca-se-me a angustiante e obsidiante dúvida sobre o rumo a dar a este escrito, hesitante que estou entre a tonalidade mística e a toada maliciosa que o Zé Tucha, impenitente inveterado, me segreda ao ouvido, a mim, frágil criatura impoluta, menino de coro e decoro, nada dado a essas maléficas pantominices. Ainda sinto na pele a valente reprimenda da minha boa amiga Doutora Auzenda que não gostou nada das minhas divagações marotas inspiradas pelo despudorado Camilo José Cela. Em verdade, não estou arrependido, mas que isto fique apenas entre nós…
Voltando às minhas dúvidas quanto ao tom a dar a esta narrativa, pergunto-me se vale a pena abordar assuntos graves. Recentemente escrevi duas crónicas sobre coisas essenciais como são a vida e a morte, as linhas da mão, a força do destino, tudo assente em convicções e experiências pessoais.
E, afinal, para quê? Para encontra a habitual ausência de reacções, isto é, para ficar com a sensação de que é indiferente escrever sobre coisas sérias ou alinhavar escritos triviais. Há uns três anos, contei** de que maneira consegui, em 1971, no Campo de Tiro da Serra da Carregueira, restituir às suas famílias alguns rapazes destinados à guerra colonial. No fundo, talvez não o tenha feito tanto por ideais políticos, como por sentir que era uma guerra absurda, e porque assim ditavam a minha consciência e a minha dignidade. Posto isto, naquele período de guerra, era muito arriscado para mim contornar as regras, furar as malhas da lei, ainda que iníqua e cínica.
A prisão era «a recompensa» para o meu atrevimento, se a falsificação fosse detectada. E não era difícil, bastava que alguém, por acaso ou por curiosidade, tivesse comparado com o original os processos aldrabados que enviei. Afinal, podia ter encolhido os ombros e deixado andar, como fazia, com egoísmo e desprezo, um tenente do quartel da Amadora, um tal Luís.
Mas achei que devia tentar. E consegui. Só conheço um dos rapazes que pude ajudar. É das Caixas, chama-se Bernardino, e a mãe, a tia Líbia, agradeceu-me, com muita emoção e um coelho…
Nunca reclamei medalhas nem cartão do clube dos lutadores anti-fascistas que saíram, apressadamente, das tocas logo no dia 26 de Abril. Apenas observei que esta narrativa não despertou qualquer curiosidade, ninguém achou útil aprofundar a questão, apesar de não ter sido propriamente uma banalidade o que se passou na Carregueira. A maioria desses abnegados resistentes nunca foi além da conspiração de café, à volta da bica e do bagaço, sem jamais ter elevado a voz ou tido um gesto que se visse. Não me considero herói, mas não teria sido de mais se alguém tivesse condescendido em me dirigir uma palavra ou um sorriso de simpatia, procurado, ao menos, saber se tinha sido verdade, se não seria gabarolice ou mistificação. Mas não, nada. Foi como se aquela crónica fosse apenas ficção pura e delirante como “O molho à espanhola” que tratava de uma louca invasão para repor os irmãos Filipes no poder. No fundo, tanto faz escrever sobre a vida para além da morte como sobre a falta de cavala no mar dos Ursos. Mas, ao fazer esta observação, não estou a manifestar surpresa nem estranheza, muito menos decepção.
Gosto de brincar, divirto-me com algumas pinceladas irreverentes, apraz-me misturar melancolia, sonho e poesia, mas não sou ingénuo nem lírico.
Há muito que me habituei a esta relação de sentido (quase) único, marcadamente direccional que existe entre quem escreve e quem lê, embora isso não me impeça de sublinhar que seria desejável que houvesse diálogo, mais intervenção dos leitores, escrevendo para o nosso jornal, tornando-o participado, mais vivo e rico.
Não faz sentido e é frustrante pensar-se que de um lado estão os que escrevem e do outro os que lêem. Ao fazermos o jornal, estendemos a mão, damos um passo, lançamos um olhar, vamos ao vosso encontro. E gostaríamos de vos ver, de vos ouvir, de vos ler.
Só assim o nosso jornal cumprirá a sua missão de nos juntar a todos, leitores e escribas, à volta da mesma causa que é a nossa terra, nas suas múltiplas facetas, as pessoas, as coisas, a economia, o ambiente, a segurança, a pesca, o turismo, a droga, a educação, etc.
As pessoas, de maneira geral, só escrevem para o jornal quando se sentem atacadas, nos seus interesses ou na sua dignidade. É pena, porque a certa altura pode haver o risco de desalento, de desmotivação por parte de quem se sinta cansado de erguer a voz em defesa do nosso mar e dos nossos pescadores, por exemplo. Por alguma razão, recentemente, o Pedro Filipe pedia aos sesimbrenses para acordarem. Um dos sinais desse adormecimento é a posição de alheamento e comodismo, sem se manifestarem, sem se pronunciarem, contra ou em apoio, sobre as causas que o jornal defende com carolice, com bairrismo, certamente, mas também com conhecimento e noção de responsabilidade. No fundo, um jornal é um meio de comunicação e esta faz-se nos dois sentidos.
Por mim, apenas observo, registo, não me queixo, não vale a pena, tudo isto mais não é do que pretexto para a nossa cavaqueira mensal. Afinal, o que escrevo quase sempre se situa na esfera do acessório. Mesmo quando falo da vida e da morte. Ou da guerra que, muitas vezes, nos leva de uma à outra…
António Cagica Rapaz
Há tempos, numa gloriosa manhã de domingo, bateram-nos à porta, na Aiana, dois mensageiros de Jeová. Chovera durante toda a semana e aquele sol radioso, o perfume da terra molhada, o ar puríssimo e a luminosidade do céu lavado pela chuva benfazeja, tudo isso fazia daquele domingo uma prova suficiente da existência de Deus, de Jeová, de Maomé ou de Buda, à escolha, segunda as crenças.
Não calhou ser eu a ir à porta, e abstive-me de intervir na ladainha dos pacientes e pertinazes pregadores, tendo apenas retido uma frase que me deixou pensativo. Fiquei a saber que, para as testemunhas de Jeová, a alma morre com o corpo. Admito que haja alguma ambiguidade entre os conceitos de alma e espírito, que conviria aprofundar a reflexão, mas não desejei esclarecer o assunto e apenas aproveito o mote para divagação.
Esta convicção dos seguidores de Jeová (a menos de outra interpretação) parece encerrar uma mensagem tenebrosa, e deixa-me alguma curiosidade quanto à maneira como encaixarão esta ideia num quadro positivo de vida. Seria certamente interessante ouvir a argumentação que utilizam para conseguirem transmitir esperança e optimismo, encontrar sentido para uma vida sem prolongamento para além da morte.
Se, de facto, a alma morre com o corpo, o nosso horizonte é curto, o fim do filme da nossa vida não traz qualquer surpresa nem a menor expectativa, muito menos uma esperançazinha de eternidade. Como todos sabemos, estamos condenados a morrer, é mesmo a única certeza que a vida nos dá. Ora, se uma religião nos diz que a morte é o fim, do físico e do espiritual, que sentido poderemos encontrar para a vida?
Este tipo de congeminações poderia tornar-nos pessimistas e macambúzios, pelo que é aconselhável certa prudência na aproximação a assuntos desta natureza morta.
Há tempos, deparei na praça (palco privilegiado de todos os encontros) com o José Embaixador, figura notável da nossa terra, bombeiro, mercador de matacões, bolos e pastéis, e também patriarca dos servidores de Jeová.
Confesso que nunca vislumbrara no nosso Zé Tucha preocupações de ordem espiritual, mas admito perfeitamente que em qualquer altura possamos ser levados por uma onda de misticismo. Cada um tem o direito de acreditar, pregar ou prestar culto segundo as suas convicções, desde que respeite o seu próximo a quem deve reconhecer igual liberdade de pensamento e de expressão. Apesar de tocado pela graça de Jeová, o Zé Tucha não perdeu a outra graça, a sua verve malandra, o bom humor que sempre lhe conhecemos. E disso me apercebi no nosso diálogo na praça. Na sua linguagem pitoresca e metafórica, lá me foi dando conta da sua saúde que já não é o que foi, tendo sido obrigado a usar um “pace maker” para manter o coração a funcionar em bom ritmo. Mas não se ficam por aí os seus constrangimentos. Mais inconformado ainda me pareceu quando rematou, em confidência e desabafo: “Olha, o pior é que já nem vou à tona”.
Habituado às suas excêntricas figuras de retórica, deduzi que já não se sentisse em forma, à tona de água, menos vigoroso, com menos destreza, enfim, algo parecido. Porém o seu sorriso maroto deixou-me, mais tarde, a impressão de ter ouvido mal…
Seja como for, a brejeirice lendária do Zé Tucha mostra que não está muito preocupado com a dicotomia alma-espírito e que conserva uma perspectiva optimista e hedonista da vida.
Aqui chegados, coloca-se-me a angustiante e obsidiante dúvida sobre o rumo a dar a este escrito, hesitante que estou entre a tonalidade mística e a toada maliciosa que o Zé Tucha, impenitente inveterado, me segreda ao ouvido, a mim, frágil criatura impoluta, menino de coro e decoro, nada dado a essas maléficas pantominices. Ainda sinto na pele a valente reprimenda da minha boa amiga Doutora Auzenda que não gostou nada das minhas divagações marotas inspiradas pelo despudorado Camilo José Cela. Em verdade, não estou arrependido, mas que isto fique apenas entre nós…
Voltando às minhas dúvidas quanto ao tom a dar a esta narrativa, pergunto-me se vale a pena abordar assuntos graves. Recentemente escrevi duas crónicas sobre coisas essenciais como são a vida e a morte, as linhas da mão, a força do destino, tudo assente em convicções e experiências pessoais.
E, afinal, para quê? Para encontra a habitual ausência de reacções, isto é, para ficar com a sensação de que é indiferente escrever sobre coisas sérias ou alinhavar escritos triviais. Há uns três anos, contei** de que maneira consegui, em 1971, no Campo de Tiro da Serra da Carregueira, restituir às suas famílias alguns rapazes destinados à guerra colonial. No fundo, talvez não o tenha feito tanto por ideais políticos, como por sentir que era uma guerra absurda, e porque assim ditavam a minha consciência e a minha dignidade. Posto isto, naquele período de guerra, era muito arriscado para mim contornar as regras, furar as malhas da lei, ainda que iníqua e cínica.
A prisão era «a recompensa» para o meu atrevimento, se a falsificação fosse detectada. E não era difícil, bastava que alguém, por acaso ou por curiosidade, tivesse comparado com o original os processos aldrabados que enviei. Afinal, podia ter encolhido os ombros e deixado andar, como fazia, com egoísmo e desprezo, um tenente do quartel da Amadora, um tal Luís.
Mas achei que devia tentar. E consegui. Só conheço um dos rapazes que pude ajudar. É das Caixas, chama-se Bernardino, e a mãe, a tia Líbia, agradeceu-me, com muita emoção e um coelho…
Nunca reclamei medalhas nem cartão do clube dos lutadores anti-fascistas que saíram, apressadamente, das tocas logo no dia 26 de Abril. Apenas observei que esta narrativa não despertou qualquer curiosidade, ninguém achou útil aprofundar a questão, apesar de não ter sido propriamente uma banalidade o que se passou na Carregueira. A maioria desses abnegados resistentes nunca foi além da conspiração de café, à volta da bica e do bagaço, sem jamais ter elevado a voz ou tido um gesto que se visse. Não me considero herói, mas não teria sido de mais se alguém tivesse condescendido em me dirigir uma palavra ou um sorriso de simpatia, procurado, ao menos, saber se tinha sido verdade, se não seria gabarolice ou mistificação. Mas não, nada. Foi como se aquela crónica fosse apenas ficção pura e delirante como “O molho à espanhola” que tratava de uma louca invasão para repor os irmãos Filipes no poder. No fundo, tanto faz escrever sobre a vida para além da morte como sobre a falta de cavala no mar dos Ursos. Mas, ao fazer esta observação, não estou a manifestar surpresa nem estranheza, muito menos decepção.
Gosto de brincar, divirto-me com algumas pinceladas irreverentes, apraz-me misturar melancolia, sonho e poesia, mas não sou ingénuo nem lírico.
Há muito que me habituei a esta relação de sentido (quase) único, marcadamente direccional que existe entre quem escreve e quem lê, embora isso não me impeça de sublinhar que seria desejável que houvesse diálogo, mais intervenção dos leitores, escrevendo para o nosso jornal, tornando-o participado, mais vivo e rico.
Não faz sentido e é frustrante pensar-se que de um lado estão os que escrevem e do outro os que lêem. Ao fazermos o jornal, estendemos a mão, damos um passo, lançamos um olhar, vamos ao vosso encontro. E gostaríamos de vos ver, de vos ouvir, de vos ler.
Só assim o nosso jornal cumprirá a sua missão de nos juntar a todos, leitores e escribas, à volta da mesma causa que é a nossa terra, nas suas múltiplas facetas, as pessoas, as coisas, a economia, o ambiente, a segurança, a pesca, o turismo, a droga, a educação, etc.
As pessoas, de maneira geral, só escrevem para o jornal quando se sentem atacadas, nos seus interesses ou na sua dignidade. É pena, porque a certa altura pode haver o risco de desalento, de desmotivação por parte de quem se sinta cansado de erguer a voz em defesa do nosso mar e dos nossos pescadores, por exemplo. Por alguma razão, recentemente, o Pedro Filipe pedia aos sesimbrenses para acordarem. Um dos sinais desse adormecimento é a posição de alheamento e comodismo, sem se manifestarem, sem se pronunciarem, contra ou em apoio, sobre as causas que o jornal defende com carolice, com bairrismo, certamente, mas também com conhecimento e noção de responsabilidade. No fundo, um jornal é um meio de comunicação e esta faz-se nos dois sentidos.
Por mim, apenas observo, registo, não me queixo, não vale a pena, tudo isto mais não é do que pretexto para a nossa cavaqueira mensal. Afinal, o que escrevo quase sempre se situa na esfera do acessório. Mesmo quando falo da vida e da morte. Ou da guerra que, muitas vezes, nos leva de uma à outra…
____________
*Publicado originalmente na edição de Maio de 1999 de O Sesimbrense.
** [nota do editor] Na crónica Superveniente, publicada na edição de Dezembro de 1995 de O Sesimbrense. Com o mesmo título, e versando o mesmo assunto, publicou António Cagica Rapaz uma narrativa no livro Janela com Escritos (Sete Caminhos, 2006).



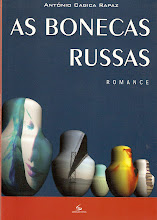




Crónica bem saborosa, mesmo sem contar com os bolos e pastéis do Zé Tucha...
ResponderEliminarComo ainda há minutos referia, num outro lugar, as pessoas têm uma certa relutância em escrever não sendo para protestar e mesmo isso, ou é feito de viva voz e na exacta ocasião, ou o livro de reclamações fica a criar mofo.
Opinar por escrito não está decididamente nos hábitos da maioria.
Do que resulta eu estar para aqui tão isolada nos meus modestos comentários.
Outros haveria com bastante mais competência para o fazer, mas tudo o mais que se diga será chover no molhado.
É meu o prazer de ler, vou continuar a deixar por cá o rasto da minha passagem.
Bem haja, Escriba!
BOA NOITE, Ó MESTRE!
Não tem de quê, Ana. Possa o seu apelo surtir efeito, para que também aqui haja aquela "vida conversável" que o Tó Manel tanto cultivava. E que a voz nunca lhe doa, que a caneta nunca lhe pese...
ResponderEliminarUm beijinho.
Boa Noite, Ó Mestre!
Foi uma das "nossas" batalhas antigas, tema de inúmeras conversas.
ResponderEliminarNinguém comenta, parece que escrever é um fardo e dar a nossa opinião nos torna uns seres diferentes. Haverá algum castigo, que eu porventura desconheça, para quem comenta ou dá a sua opinião? Poderão estes textos deixar indiferentes quem os lê? São testemunhos vívidos, vividos e vivos do autor que, como poucos, retrata personagens de uma terra que lhe estava presa à alma, enquanto o coração trazia para o papel palavras de rara beleza descritiva que, mesmo para quem não conhecia os locais ou os intervenientes, tinham o condão de nos transportar para esse ambiente sem qualquer dificuldade. Magia essa que ainda permanece, em cada leitura que fazemos...
Quase me arriscaria dizer, caros Ana e Escriba, correndo o risco de andar a escrever para os peixes, que o prazer de ler é, de facto, de todos nós. Mas existe um outro prazer que só dos outros brota: o de dar a sua opinião sobre o que estão a ler ou a ver. E que, como quase tudo o que é bom, também esta sociedade em que vivemos faz questão de ver perder-se, por inércia...
Por mim, mantenho-me fiel ao espírito do que sempre defendi: comentar não custa!
Continuem a contar comigo...
Boa noite, Ó Mestre!