
Águeda*
António Cagica Rapaz
Era uma manhã bonita, cheia de sol, gente na rua, disponível, disposta à cavaqueira, no ar um perfume de maresia suave, sábado glorioso.
O sábado é o melhor dia da semana, vale por dois, temos uma sensação de eternidade, liberdade, tempo infinito, a manhã pode espreguiçar-se, o almoço pode esperar, a tarde envolve-se com a noite e esta não tem fim, amanhã é domingo.
O Carlos Batista ia às compras, mas ficou por ali, sem pressas, na conversa, por pouco deixava fechar a praça, enrolado nas malhas do diálogo saboroso, deleitado na frescura da manhã. Era um daqueles momentos que nos apetecia prolongar, mas nem mesmo aos sábados fugimos às obrigações. E foi durante aquela conversa que me entregou fotocópia da carta de uma leitora que vive na África do Sul. Meti-a no bolso, para leitura posterior, na Aiana, à sombra dos sobreiros, sem imaginar de quem fosse.
Ora, a autora da carta tem um nome invulgar, Águeda, nome de terra, e não me pareceu familiar, a não ser quando se referiu ao irmão. Então, sim, pude situar no tempo as imagens que vinham desde a rua da Fé, passavam pela rua do Forno e acabavam na garagem da Dona Beatriz que servia de escola onde tive por bom companheiro o Luís, rapazola cujo pai teria um fraco pelos rebuçados… Teve a Águeda a bondade e a paciência de escrever ao Director deste jornal e de me dirigir algumas palavras simpáticas que não só me deram muito prazer como me forneceram assunto a que tento dar forma aceitável, assim mesmo, sem rede, perante vocências, neste namoro que vamos mantendo uma vez por mês, da rua para a janela da mercearia do senhor Arménio onde ficam expostas dias a fio, à torreira do sol, coitadinhas, ao pé do bacalhau demolhado, a primeira e a última páginas d’O SESIMBRENSE, que é um dó d’alma, coisas do Carlos Batista a que o António fecha os olhos e abre a montra. É um namoro à antiga, à distância, com pudor e circunspecção, o respeitinho é muito bonito.
Ah, a rua da Fé, o inesquecível e inconfundível perfume da mercearia do Fernando Rasteiro e da Dona Aldegundes.
Era um cenário único, a cocheira ao lado, a mula e a carroça, o campo e a vila a dois passos do mar, à sombra da torre da igreja de cima. A caminho da escola, rua do Forno fora, habituei-me a passar em frente à oficina do tio Elias, parando sempre à porta para respirar fundo e aspirar o cheirinho da madeira, contemplar o universo fascinante que aprendi a conhecer com o meu pai que, de vez em quando, me levava ao Corpo de Marinheiros. Era uma excitação maravilhosa, ia no carro da carreira, de pé, ao lado do motorista, quando era um compincha que me deixava carregar com o pé no botão da buzina ruidosa, antes das curvas fechadas. O pior era o Mau-Mau, em Santana, no posto da Polícia. E lá voltava eu ao meu lugar. Depois era o desfilar dos pinheiros, estrada fora, até ao Laranjeiro e a entrada ufana pelo Portão Verde. Miúdo deslumbrado, brinquei dias inteiros na oficina sob o olhar atento e ternurento do meu pai, sargento artífice carpinteiro, todo eu orgulho e felicidade com perfume a madeira.
Ora, na rua do Forno, ao lado da oficina do tio Elias, havia uma casinha onde trabalhava um sapateiro a quem eu deitava um olho apressado, porque o meu sapateiro era o tio Joaquim Sobral e eu permanecia fiel ao seu estaminé pequenino, com os banquinhos minúsculos de escola infantil, os passarinhos na gaiola, o cheiro a cabedal e as canas de pesca lá dentro, à espera da segunda-feira, dia sagrado de epopeias nos rochedos do Caneiro.
Pois este sapateiro da rua do Forno tinha duas filhas, uma que viria a casar com o Cabecinha e outra com o Júlio Laranjeiro dos Santos, mais conhecido por Júlio Galgão, meu amigo de longa data. Mas tinha também o nosso homem um filho, um calmeirão de físico impressionante, com ombros largos, tronco em V, um atleta admirável que namorava a irmã do Luís, meu companheiro de infortúnio na escola-garagem da D. Beatriz. Era em 1954, talvez, numa altura em que o Camilo não sonhava com o restaurante Baía. Era carpinteiro naval e o único serviço de restaurante era assegurado pela mulher que, a meio da manhã, ia levar uma cafeteira de leite e um pãozinho com manteiga ao menino Luís que entrava às sete. Não, não insistam, não volto a narrar o mistério das flores que murcharam prematuramente nem outras histórias sombrias…
Lembro-me do falecimento da mãe do Luís e da partida para África da irmã, a Águeda, que casou com o calmeirão musculoso e esbelto.
Tanto quanto me recordo, ela era magrinha e cheguei a pensar que se quebraria em mil bocados nos braços poderosos daquele colosso. Pelos vistos (e lidos na carta) não só sobreviveu como lhe deu três filhos. E, sobretudo, é feliz, Deus os continue a ajudar. Teve ainda a Águeda força e ânimo para nos escrever, grande ideia, porque nós pensamos em todos os sesimbrenses que vivem longe, sabemos como é agradável receberem o nosso jornal.
Por estas e outras razões, a nossa modesta gazeta pode chegar a ser desejada, por trazer em si um pouco de todos nós, porque é nossa, porque nos diz respeito, fala de nós, nos chama pelos nomes, pelos apelidos e, até, pelas alcunhas, nos põe na berlinda, nos desafia para a desgarrada, nos empurra do Passadiço na maré cheia, nos dá uma amona, nos bate nas costas, nos dá um abraço, vai connosco atrás da procissão, faz parte da nossa vida. Por tudo isso, nos preocupamos com ela, procuramos fazê-la bem, deixando-a pronta para sair, de risco ao lado, páginas com vinco, toda catita na sua fatiota de plástico.
Se nos falta assunto, olhamos em volta, basta isso. Há pouco tempo, caminhava eu junto ao muro da antiga lota quando ouvi alguém cantar o fado, baixinho. Aproximei-me e meti conversa com o homem. Falámos disto e daquilo e, entre duas frases, lá ia mais meia de fado, sempre com um sorriso tranquilo. Tem 94 anos, quase um século às costas que virava ao mar, ali no muro da lota, num domingo de manhã, sorrindo à vida. Neste mundo de descrença, de desamor e de vazio, é quase um milagre. Era o pai do João Mau…
Nós sabemos que, friamente vistas as coisas, pouco ou nada valemos nem representamos neste universo a abarrotar de jornais diários, semanários, múltiplas revistas, inúmeras rádios, canais de televisão e Internetes. Não tenhamos ilusões, somos uma gota de água, insignificante e frágil, é a nossa fraqueza. Mas é água da Califórnia, água pura, com o sabor das nossas raízes, da nossa memória, da nossa paixão, do nosso mundo interior e anterior. É a nossa força.
E quem recebe o nosso jornal, lá longe, fecha os olhos, vê o mar a beijar a areia, o farol a piscar o olho ao cair da noite, e o castelo recortado no nevoeiro de um Setembro farto de sol. Mas quem está longe também aborda com receio e certa angústia a página da necrofilia. Abruptamente, pode dar com o nome ou a fotografia de um familiar, um amigo, o companheiro de carteira da segunda classe. Quem vive em Sesimbra passa junto à montra d’O Sesimbrense e fica a saber quem morreu.
O Zé de Matos andava feliz, enfim reformado, livre para poder saborear Sesimbra fora de horas e de dias de constrangimento. Livre para ver partir os visitantes ao domingo, pela tardinha, e no fim do Verão. Livre para ir com o Gil, o António Mateus e o Júlio Galgão, ao banho, na praia deserta das segundas-feiras, sem pressas, sem encontro marcado a não ser com as marés cheias de amizade e nostalgia, regresso ao desprendimento, às manhãs benditas que só acabam na Galé, com pimentos e peixe-assado. O Zé de Matos lia o nosso jornal e, de vez em quando, no muro da lota, na esplanada do Central, dava-me dois dedos de conversa, com futebol à mistura.
Há bem pouco tempo ainda, falava-me dos nossos pais, sugeria-me que não esquecesse, um dia, de referir que eram amigos. Prometi fazê-lo quando arranjasse ideia que permitisse encaixar essa nota. Nunca pensei que fosse tão cedo, que tão cedo se fosse o Zé de Matos, que tão cedo tivesse de falar dele no pretérito. Mas é assim, acontece, de repente, quando a vida parece ser um caminho ainda longo a percorrer.
E essa mesma (será?) vida vai continuar, sem ele, sem todos quantos nos vão deixando. E o nosso jornal?
O nosso jornal só obedece aos apelos do coração e basta-nos saber que algures, na África do Sul, a Águeda e os seus nos lêem com prazer.
E imagino o Zé António, na fria Alemanha, percorrendo O SESIMBRENSE, à procura de um nome conhecido, de uma referência à Torrinha, às imperiais e às navalheiras do Gil, aos rescaldos dos jogos do Benfica em debates quentes com o Hélio e o Vítor Batista, ao perfume dos eucaliptos do campo do Desportivo, com a camisola do Espadarte e o elegante Cardim na baliza.
Por isso, por eles, por outros, vamos escrevendo, enquanto é tempo, admitindo que não será inútil, aproveitando temas e ideias, inventando, sonhando, improvisando, tudo para que o nosso jornal continue a ser o toldo do jogo do prego, as escadinhas da rabeça…
____________
*Publicado originalmente na edição de Maio de 1997 de O Sesimbrense.



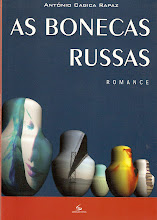




E a falta que não haverão de ter sentido todos os demais leitores (para além da Águeda) deste grande cronista do seu pequeno reino...
ResponderEliminarAh, faltou-me a saudação final e sem ela eu não passo:
ResponderEliminarBOA NOITE, Ó MESTRE!
Para quem está longe da sua terra ou dos seus (familiares, amigos, conhecidos) sabe sempre bem receber novidades do que se vai passando.
ResponderEliminarPermite manter uma ligação ao passado e viver o presente, sobretudo quando se desconhece o que o futuro lhes pode reservar (a não ser, estou certo, a vontade de regressar um dia).
Não me custa nada acreditar que muitos sentimentos tenham sido despertados em leitores que, como a que ora aqui ficou retratada, tinham acesso a essas novas, via O Sesimbrense.
Muitos deles graças ao "nosso" António Cagica Rapaz! Quantos não lhe terão ficado a dever uma lágrima furtiva ou um aperto de saudade no coração, que lhes amenizava, sem saber, a angústia da distância ou da separação?
Boa noite, Ó Mestre!