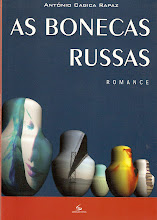As grandes famílias*
Há dias, ao arrumar alguns livros na biblioteca, deparei com os três volumes de uma obra admirável de Maurice Druon, membro da Academia das Artes e das Letras. O primeiro desses volumes intitula-se «As Grandes Famílias» e dele foi tirado um filme há alguns anos e, recentemente, uma série para a televisão.
A obra relata a grandeza e a miséria, o zénite e o crepúsculo, a glória e a decadência de uma grande família que se desfaz ao longo dos anos e das gerações, minada por erros e defeitos, vícios e fraquezas.
Ficou-me na memória a imagem do poder e da união na fase do esplendor e, depois, o degradante desmembramento físico e moral, material e espiritual, a agonia de um império. Uma grande família unida e autêntica será porventura o sonho de muitos de nós que pensamos que partilhar é a razão de ser, a base, a essência da nossa vida. Nós vivemos uns com os outros, damos e recebemos, trocamos, tudo e em permanência. Partilhar o melhor e o menos bom é viver melhor em comunidade, mas partilhar tem de ser plenamente, com espontaneidade e desejo sincero, sem cálculo, sem restrição, sem artifício.
Uma grande família é um universo maravilhoso, uma fortaleza, um jardim, um celeiro, uma imensa chaminé, um prado, uma floresta, um oásis.
Não pertenço a uma grande família. Pelo contrário, é reduzida e, infelizmente, desunida. Desde sempre tive a percepção da importância de uma grande família e acabei por fazer parte de duas grandes famílias, primeiro em Sesimbra e depois em Coimbra e no Porto.
Tive a felicidade em períodos diferentes, em fases importantes da minha vida, à saída da infância, à porta da adolescência e, mais tarde, na antecâmara da idade adulta, de encontrar abertas as portas da fraternidade.
Fui aceite nessas grandes famílias, contou muito para mim, não esqueci e hoje evoco, talvez porque o acaso me levou a percorrer a obra de Maurice Druon, talvez porque essas recordações tivessem voltado ao meu espírito como sempre acontece nesta quadra de Natal recente.
Foi nos anos cinquenta e trocámos a rua da Fé pela rua Monteiro, para irmos morar na casa do velho Justino das barracas, como era conhecido. A renda era de 425 escudos, enorme naquela altura. Como vizinhos, tínhamos duas das mais antigas e sólidas famílias de Sesimbra, a casa Palmela a norte e a farmácia Lopes a sul.
Ainda conheci o impressionante patriarca Carlos Palmela e cheguei a comer com ele à mesa quando fui aluno da D.ª Beatriz que, em tempos, havia sido professora da minha mãe e que continuava a meter-lhe medo como nos bancos da escola.
Por curiosidade, aprendi a ler com a boa Rosa Manão que, por sua vez, ensinara também o meu pai. Os extremos tocam-se, a vida dá muita volta.
Na casa Palmela o ambiente era austero, severo, pesado e frio. Não havia crianças, os únicos garotos eram os três alunos que transformavam a garagem em sala de aula.
Para sul outro vento soprava. Um muro separava (ou unia) a nossa casa e a do doutor Fernando Lopes. Na porta principal havia uma placa metálica na qual estava gravado «Fernando Figueiredo Lopes – Licenciado em Farmácia». Sóbrio mas impressionante para os meus oito anos, aluno da D.ª Emilinha, depois da D.ª Ernestina, até cair na garagem da D. Beatriz.
Cedo aprendi a saltar o muro para ir brincar com o Carlos Manuel, hoje o Eng.º Carlos Lopes, figura destacada da nossa terra.
Cedo aprendi a saltar o muro para ir brincar com o Carlos Manuel, hoje o Eng.º Carlos Lopes, figura destacada da nossa terra.
O convívio com a família Lopes foi o primeiro contacto com outro escalão da sociedade, um universo desconhecido e deslumbrante onde se respirava segurança, conforto, serenidade, onde nos sentíamos protegidos, sem incertezas nem angústias, onde nada de mau parecia possível acontecer.
Quando o Eduardo do leite, vindo da Cotovia, dava duas badaladas na nossa porta às sete da manhã, era o leite fresco e o boletim meteorológico. Na cama, eu ouvia a voz forte do Eduardo anunciar a chuva que caía ou estava para vir. E a chuva era o pesadelo do meu pai, o cancro das pedreiras, paralisando o trabalho, estragando o que estava feito, uma angústia de cada dia.
Esta incerteza do amanhã, a que desde cedo me habituei, não a sentia em casa do meu amigo Carlos. E ainda bem para ele e para todos que me abriram as portas da sua intimidade naquele mundo de harmonia, beleza e bondade.
Assim entrei naquela família, naquela grande família que atingia a sua expressão maior na noite de Natal, em casa do tio Nuno.
Por vezes sentia tristeza natural, ao deixar os meus pais em casa para ir à missa do galo e depois à consoada do tio Nuno. Mas era tão reconfortante ser recebido no seio daquela família sem dela fazer parte por laços de sangue que voltava, Natal após Natal.
O tio Nuno foi das pessoas mais maravilhosas que conheci na minha vida, todo ele bondade, sensibilidade, ternura, espírito delicado, coração puro e uma alma de artista.
E se eu entrei em sua casa, se admirei o seu presépio de amor, se vivi verdadeiros Natais, foi porque saltei o muro do Carlos. E se o fiz foi porque me senti autorizado, porque sabia que ele estava à minha espera, sob o olhar bondoso da mãe, a D.ª Stella.
E eram intermináveis partidas de monopólio, a mercearia requintada na casa da lenha, os petiscos da Álvara, a groselha, todo um universo de sonho e uma convivência magnífica, saudável, sem uma única zanga, sem um só conflito tão frequente (e natural) entre rapazes. Comigo e com o Carlos nunca sucedeu. Houve sempre correcção e amizade sem atritos nem equívocos, talvez porque reinava naquela casa um clima de verdade, de disciplina salutar, um equilíbrio sereno entre o rigor do Dr. Fernando Lopes e a suavidade da D.ª Stella. Com o tempo, passei a fazer como os outros e a chamar-lhe Tia Stella. E é a tia Stella a pedra angular do edifício das minhas recordações ligadas à grande família. Pela sua mão (que já me abrira a sua própria porta) entrei em casa do tio Nuno e depois do tio Jojó. Os três constituem o triângulo da amizade que marcou a minha infância, a minha adolescência e quase a minha maioridade. E digo quase, porque em casa do tio Jojó não me sentia adulto mas o quarto filho que a D. Fernanda teve a bondade de aceitar.
Os domingos na Cotovia são talvez o melhor que tive na minha vida porque eram a partilha profunda que o tio Jojó cultivava, com verdade e alegria. Era a partilha da mesa, era a partilha da amizade e do prazer de estarmos juntos.
E tudo começou graças à tia Stella que iluminou esse período difícil da minha vida, com a sua bondade, a sua doçura, o seu olhar celestial, a sua compreensão, a sua beleza visível e a sua beleza interior.
Com ela rezei o terço, com ela aprendi noções da vida em sociedade, nela admirei a suavidade do trato, a luminosidade do sorriso, a bondade autêntica em cada gesto.
Com a minha mania das gravações, conservo uma cassete feita no natal de 72 e ouvindo-a há dias
senti vontade de evocar, de contar, de agradecer assim publicamente à tia Stella o muito que fez por mim. Todavia, não é só por isso que o faço porque exprimir aqui um ponto de vista ou um sentimento pessoal pouco interessa.
Mais do que isso, é uma homenagem que presto porque não é fácil encontrar alguém que reúna ao mesmo tempo tantas virtudes como a D.ª Stella Gouveia Lopes, beleza pura física e beleza interior, um rosto de santa, um coração bondoso e uma ternura, uma caridade real, efectiva, sentida, traduzida em actos concretos ao longo dos anos.
Deu-lhe Deus beleza, aquele olhar celestial, um marido excepcional, filhos exemplares e uma vida confortável porque sabia que era justo, merecido. Deus sabe que a D. Stella é boa, generosa, admirável. Por isso Deus foi generoso. E Deus não se engana.
Quis o destino que me fosse aos poucos afastando de Sesimbra. Primeiro foi o liceu de Setúbal, depois Coimbra, a seguir o Porto, por fim Paris.
O tempo e a distância levam-me a ver e sentir coisas e pessoas de outra maneira, com filtros naturais que retêm o supérfluo e o postiço.
Assim só conservo o melhor. E a tia Stella faz parte do melhor da minha vida. Beijo-lhe as mãos.
____________
* Publicado originalmente em O Sesimbrense em 1991.











.jpg)