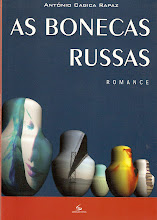Por Hórus*
António Cagica Rapaz
Recentemente, o nosso companheiro que ocupa “O canto da floresta”, Eng. José Rodrigues, entregou-se a reflexão sobre a vida, a morte, a eventualidade daquela depois desta, toda uma problemática velha como o tempo mas que conserva total actualidade e apaixonante interesse pois o mistério permanece inteiro. Porque a revelação só surge quando chega a nossa hora.
De facto, desde sempre que o homem se interroga sobre o sentido da vida, de onde vimos, para onde vamos, vidas anteriores e posteriores. Há mil teorias, mil tentativas de resposta, mas nenhuma é suficientemente esclarecedora, nenhuma dá certezas nem garantias. Aliás, na minha opinião de profano ignorante, é normal que assim seja, o mistério e a dúvida são condições indispensáveis para a caminhada que somos levados a realizar neste mundo e que deve ser autêntica e sincera. Lá voltaremos…
A verdade é que, apesar das espantosas conquistas da ciência, continua por demonstrar se há ou não vida para além da morte. Postas perante esta angustiante questão, há pessoas que acreditam na existência de uma vida eterna, na sobrevivência do espírito, na possibilidade de contactos com esses mesmos espíritos e na reencarnação. Outras, quando ouvem certas narrativas, limitam-se a dizer que não acreditam, não tentando arranjar explicações, não procurando desmistificar nem destruir as teorias e crenças alheias. Não acreditam, ponto final.
Há, ainda, uma categoria de pessoas que considera ridículas e próprias de espíritos inferiores, ingénuos e pueris, as convicções ligadas à existência de vida depois da morte. Sentem-se mesmo insultadas na sua inteligência, no seu fulgor intelectual. Não se contentam em dizer que não acreditam, antes procuram encontrar teorias racionais e científicas para o que reduzem a alucinações e parvoíces de gente crédula e influenciável. E lá nos informam, do alto das suas cátedras, que só uma pequeníssima parcela do nosso cérebro é aproveitada, que os pretensos fenómenos paranormais são apenas consequência de reacções químicas, enfim toda uma panóplia de argumentos que disso não passam. A grande verdade é que, se os ingénuos não conseguiram ainda provar que há vida depois da morte, não é menos certo que os espíritos superiores também não demonstram que não há.
E desta forma continua empatado, desde há séculos, este encontro de convicções. Se calhar é preferível que as coisas fiquem assim, como estão, cada um na sua, todos livres de seguir o caminho que quiserem, em total liberdade, levados pela fé ou pela sua ausência, conforme os casos.
Pessoalmente, só muito tarde me interessei por estes assuntos e pouco sei deles, embora tenha tido certas experiências muito interessantes que me levam a crer que o balde de cal no caixão não é o fim, mas o princípio. Apesar desta convicção, entendo que a dúvida deve subsistir, por ser a regra do jogo. Se não, vejamos. Se Deus quisesse dar-nos provas indiscutíveis da Sua existência, não teria a menor dificuldade em aparecer aqui e ali. Mostrava-se, tirava-nos todas as dúvidas com meia dúzia de milagres ou proezas só ao Seu alcance e, depois, ia à Sua vida eterna. Porém, se o fizesse, tirava-nos o livre arbítrio, cortava-nos a espontaneidade, condicionava irremediavelmente o nosso comportamento que passaria a ser guiado pela certeza da existência de Deus e, por inerência, do Paraíso. O mal acabaria e o bem alastraria, mas um bem postiço, interesseiro, simples meio de obter o Céu como recompensa garantida. Como saber então quem seriam os genuinamente bons e os oportunistas? Dir-me-eis, Deus sabe tudo. É verdade, mas se as coisas são como são, Ele lá terá as suas razões. Aliás, já que vamos por aqui, há uma coisa que me faz certa confusão e que, à primeira vista, parece ilógica. Mas se Deus quis assim, alguma boa razão haverá. Eu conto. Todos concordarão que o ser humano é o que de mais importante há no Mundo. Por isso, de todos os actos que nós possamos levar a cabo, nenhum será mais sério, mais grave e mais valioso do que fazer um filho. Ora, estranhamente, fazer um filho não custa um centavo e, mais do que isso, é um acto que proporciona prazer. Muitas vezes, diria mesmo quase sempre, o filho é feito por acaso, sem intenção, sem querer, sem ponderação prévia. Do meu ponto de vista, há uma desproporção gigantesca entre a importância e as consequências do acto face à facilidade, à banalização e, sobretudo, à ideia de prazer carnal que o caracteriza. Como se Deus receasse que, se não fosse fácil e agradável, o homem não procriasse. Na realidade, fazer um filho deveria ser pelo menos tão doloroso como arrancar um dente. Evitar-se-ia muita miséria, muito drama. Mas haveria muito menos crianças. Não acuso nem elogio Deus, apenas considero que há aqui uma manifesta contradição e, provavelmente, suprema habilidade divina. Mas, repito, se Deus assim quis, razões terá…
Sesimbra, temente a Deus e respeitando o mar, foi buscar à cova funda do tempo mil narrativas de casas assombradas, passos arrastados, ruídos estranhos, vultos, vozes roucas, histórias contadas em tempos tenebrosos de vendaval, com o vento medonho a assobiar na noite escura de breu. Para os meus ouvidos de criança era assustador, sobretudo porque não podia duvidar da sinceridade das pessoas.
Tenho perfeita consciência de que se trata de uma questão sensível, controversa, sobre a qual os dados, por mais concretos que pareçam, deixam sempre uma margem de dúvida. Não é meu propósito convencer nem defender teses contra ventos de suspeita metódica nem marés de intelectualismos sobranceiros, apenas me agrada abordar um assunto apaixonante. Talvez por ser um espírito simples, partilho o terror de uma mulher que viveu por duas vezes numa casa que fora uma barbearia onde se enforcara o dono, ali em frente da “Virgilinda”. Por outras tantas vezes teve de fugir, apavorada, tendo ouvido, noites a fio, uma navalha que mão invisível amolava repetida e arrepiantemente. Mais tarde, eram luzes que acendiam e apagavam sozinhas, panelas e tachos a bater na noite, portas que se abriam e fechavam, um espírito de alguém conhecido que entrava na casa onde morara, mil episódios que me encheram de medo. Não sabia eu, então, como julgo saber hoje, que estes ruídos, estas manifestações são apenas tentativas de quem não sabe ou não pode comunicar connosco e que deseja transmitir-nos alguma coisa, dar conta de uma promessa que ficou por pagar, de um documento que conviria revelar, sei lá. Raras são as pessoas que possuem o dom de ver e ouvir os espíritos, como raros são os espíritos capazes de se nos revelarem. Desta dificuldade resultam estas tentativas de comunicação que assustam quem para elas não está preparado. Eu confesso que continuo a não estar, já que as experiências em que participei foram simples diálogos à volta de um copo que força misteriosa leva a formar palavras. É verdade que foram muito interessantes, embora deixem cépticas muitas pessoas. Não faz mal, cada um é livre de pensar o que quiser. Na verdade, eu não sou imparcial porque me parece absurdo, porque me recuso a aceitar a ideia de que tudo acaba, de que nada mais há para além do cemitério. Para mim não faz sentido que o espírito não sobreviva, pelo que serei certamente mais aberto, mais receptivo a ideias que outros possam considerar romanceadas ou delirantes. Mas admito as reticências à volta destas questões que são controversas, impalpáveis e que têm dado lugar a muita manipulação e charlatanice.
É provável que haja em torno delas alguma parcela de fantasia, aqui e ali, ditada pela necessidade que as pessoas têm de encontrar um sentido para a vida. E também para a morte que só os orientais aceitam com uma filosofia que é muito deles…
Não nego a capacidade da ciência nem desprezo a fantasia. E é nessa fronteira ténue entre o poder da ciência e as asas da ficção que se situa uma aventura palpitante, em banda desenhada, que gira em torno de uma tentativa para explorar maleficamente as potencialidades do cérebro humano. Trata-se de “A marca amarela”, vinha no Cavaleiro Andante e tinha como figura central um aventureiro, Olrik, que um cientista alucinado (o professor Septimus) transformou em cobaia humana (Guinea Pig). Dominou-lhe totalmente a vontade, dotou-o de força colossal, tornou-o praticamente invulnerável e colocou-o ao serviço da sua vingança destruidora, levando-o a raptar, matar, destruir. Olrik (ou Guinea Pig) escapava a todas as tentativas de captura organizadas pela Scotland Yard com o auxílio do fleumático professor Mortimer e do corajoso capitão Edgard. Até que o inevitável frente a frente aconteceu, tendo o capitão despejado o seu revólver sem sequer beliscar Olrik que sorria, sardónico e diabólico, enquanto avançava para liquidar o nosso herói, de súbito, num rasgo desesperado, o capitão Edgard gritou-lhe com quanta energia lhe restava: “Por Hórus, detém-te!”. Guinea Pig caiu como fulminado. Na parede a estátua de Hórus pareceu animar-se…
Procurei o álbum para verificar nomes e pormenores, mas não o encontrei. Se a memória me falhou, paciência. Para quem não estiver recordado, Hórus é um deus do antigo Egipto, deus do sol. Da ficção voltamos à realidade, observando que Hórus foi o nome escolhido pelo astrólogo mais famoso de Portugal para exercer a sua arte. Morreu há pouco tempo, chamava-se Lourenço e tive o privilégio de o conhecer no início da década de 70. Tivemos um relacionamento muito curioso, fez-me revelações e previsões que acabaram por se revelar exactas, apesar de, à partida, me parecerem altamente improváveis. Recordo uma conversa de três horas da qual resultaram uma entrevista insólita e ousada que publiquei no “Record”,misturando astros de céu com os do futebol, e um convite não menos surpreendente que não fui capaz de aceitar. Era total novidade para mim, não estava preparado, não era o momento certo. E não deveria estar escrito na palma da mão que o professor Hórus me leu com o seu sorriso tranquilo.
As linhas da mão inspiraram o autor do velho fado da Amália que cantava “Reza-te a sina na linha traçada na palma da mão”.
E vem de longe a habilidade das ciganas que nos pedem a mão para leitura, a troco de dinheiro. À volta das linhas da vida e da morte há certamente lacunas, imprecisões e mistificação. Mas acredito que haja verdade também. No fundo, esta conflitualidade é filha dos nossos medos e da nossa incapacidade de aceitar a morte como uma das coisas da vida.
O ideal seria que todos pudéssemos partilhar esta visão apaziguadora de uma vida depois da morte. Com ela, o Mundo seria melhor, sem maldade, sem ganância, sem tanto apego a valores materiais. É provável que volte a abordar este assunto, com elementos mais concretos, com factos que sustentem a minha convicção. Não para vos convencer, mas apenas para vos proporcionar um pedaço de leitura que espero agradável. O resto fica à apreciação de cada um, em total liberdade, com direito a sorrir, a aprovar ou a rejeitar. Não perca o próximo episódio, voltarei com coisas interessantes, juro.
Por Hórus…
____________
*Publicado em O Sesimbrense de Janeiro de 1999.