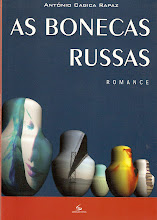Livre e Directo
António Cagica Rapaz
Aconteceu em meados de 1971, o Belenenses andava mal, Meirim tinha saído e eu não jogava. O Diário de Lisboa quis saber o que se passava e Jorge Soares fez-me uma extensa entrevista que se prolongou em dilatada conversa sobre as mil coisas interessantes que o futebol encerra. No final, convidou-me a criar uma rubrica no jornal, e assim surgiu Livre e Directo.
Eu escrevia as minhas croniquetas que depositava na caixa do correio, nunca tendo ido à redacção até ao dia em que suspeitei que algo de anormal se estava a passar com um artigo que não fora publicado. Tratava-se de um escrito sobre as relações um tanto tensas entre Jimmy Hagan e os jogadores do Benfica. O responsável pelo Desporto no DL era Neves de Sousa que, aberta e repetidamente, desancava o treinador inglês, sendo garagista um dos simpáticos epítetos com que mimoseava o pobre Hagan.
Intrigado, resolvi averiguar. Na escada, cruzei-me com o José Augusto que me disse ter lá ido dar uma entrevista ao Neves de Sousa, pessoa que eu nunca vira. Quando perguntei pelo meu artigo, não esteve com rodeios. No seu estilo tonitruante, disse-me, com todas as letras: - “Você deve estar é maluco. Então, ainda não percebeu que eu não posso com o Hagan? Eu gostava era de ver o Zé Augusto no lugar dele! E você faz um artigo a defender o gajo!” Foi a primeira vez que falei com Neves de Sousa. A crónica nunca saiu e, naturalmente, não voltei a escrever no Diário de Lisboa.
Nunca me tendo passado pela cabeça alguma vez ver ressuscitado o meu Livre e Directo, foi com grande surpresa que, nos anos 80, deparei com uma página de publicidade da Antena 1 onde era mencionado um programa intitulado precisamente Livre e Directo. Escrevi ao Sena Santos, juntando fotocópias de artigos do DL e pedindo uma explicação. Não recebi qualquer resposta, o que não me surpreendeu, devo dizer. Mais tarde, fiz nova tentativa, sem melhor sorte. Até que, nos anos 90, escrevi ao Presidente da RDP, José Manuel Nunes, que me respondeu rapidamente e mandou que o serviço do Desporto me esclarecesse, o que realmente aconteceu.
Em síntese, disseram-me que se tratara de pura coincidência, que o nome do programa se devia ao facto de as pessoas falarem livremente e de a emissão ser em directo. Admirável explicação! Um programa de rádio feito em directo! Que coisa rara e original! Que lembrança prodigiosa!
Depois, um programa onde se falava livremente! Espantoso, inacreditável! Certamente todos os outros deviam continuar a ver visados pela comissão de censura, imagino. Francamente, que falta de imaginação! Chato como sou, não resisti a explicar-lhes que a originalidade do título resulta dos trocadilhos possíveis entre os adjectivos e os substantivos homónimos livre e directo (boxe), bem como da ambiguidade entre livre e directo e livre e indirecto.
Naturalmente, não houve qualquer reacção, ficámos assim conversados e o capítulo Antena 1 encerrado.
Eis senão quando, há poucos anos, encontrei no Diário de Notícias uma rubrica intitulada Livre e Directo. Admirado e um pouco divertido, enviei um fax ao meu velho conhecido António Castro que, para meu espanto, não teve a menor reacção. Tal como não respondeu aos dois faxes seguintes. Outros tantos faxes dirigi ao Director do DN, dr. Bettencourt Resendes, mas todos ficaram sem resposta. Azar o meu…
Mais recentemente, em 29 de Setembro de 2001, foi o Público a ostentar uma rubrica Livre e Directo, assinada por Bruno Prata. Enviei um correio electrónico, mas nunca me responderam. Decididamente, não tenho emenda nem sorte…
Sinceramente, não sei que conclusão tirar, apenas registo com estranheza tanto silêncio. Se eu quiser ser ingénuo (às vezes até sou), ainda fecho os olhos à explicação pueril da Antena 1 e até admito que tenham esquecido o que escrevi em 71. Ou que nunca tenham lido.
Mas se já custa acreditar que o António Castro nunca tenha ouvido a Antena 1, mais inacreditável é os jornalistas do Público não lerem o Diário de Notícias.
Neste mundo do futebol e dos jornais, tudo é possível, mas que é estranho, lá isso é...