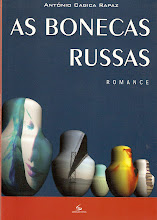Pedra Alta: foto tirada do blogue Sesimbra.
Se calhar…*
António Cagica Rapaz
Naquele tempo o Belenenses procurava avidamente um segundo título nacional e foi buscar três reforços à Argentina. Chamavam-se Perez, Di Pace e Benitez, três magníficos avançados que vieram juntar-se ao fabuloso Lucas Matateu, sob o comando do chileno Fernando Riera. Dizia-se que o melhor dos três era o Benitez que teve muito pouca sorte, vítima do talento que possuía e da selvajaria dos adversários. Primeiro foi um Gato, defesa do Benfica, e depois foi Pinto Vieira, do Braga, que lhe partiu a perna de tal forma que o pobre Benitez ficou incapacitado para o futebol e para a vida inteira.
Recordo-me da enorme bigodaça de Benitez que regressou triste e amargurado à sua Argentina, nome da filha do Matateu, curiosidade saudosista.
Passava-se isto no ano da graça de 1953 ou 54. E Graça era e é o nome do dono de outro imponente bigode parecido com o do Benitez. Talvez por isso eu os associei, o Benitez e o Graça, de sua graça Jacinto, mais conhecido por Jacinto Maneta, enquanto o Benitez ficou coxo.
O Jacinto tinha o braço esquerdo um tanto chegado ao corpo, sem que tal lhe diminuísse o engenho nem a destreza com que manobrava o pincel.
E na areia lisinha da doca o belo Jacinto dava toques cheios de habilidade, pureza técnica e suavidade artística.
Da vida ele tinha e tem uma concepção muito sua, original e filosófica. Poucos terão como ele saboreado as delícias da nossa terra, o sol, o mar, a praia, o cântico das gaivotas, o balanceamento indolente dos barcos na doca, o tempo que se escoa languidamente, a vaga sonolenta atrás da qual outra virá, o Inverno que sempre acaba por trazer pela mão a Primavera, amanhã também é dia…
Os nossos contactos foram espaçados, mas tive sempre a sensação de que o Jacinto terá sido das pessoas que conheço uma das que melhor sabe saborear a vida. Filósofo à sua maneira o Jacinto é especialista do trocadilho, da frase sibilina, da insinuação subentendida. Por vezes tinha dificuldade em saber do que me falava, a quem se referia naquela sua linguagem hermética e codificada.
Naquele tempo eu tinha 17 anos acabadinhos de fazer e sonhava com futebóis mais além. Bruxo, o Jacinto surpreendeu-me quando se propôs levar-me a treinar ao Sporting porque conhecia o Juca, na altura técnico dos juniores.
Comigo foi o Fidalgo e foi a primeira vez que andámos de metropolitano. Creio que foi o Jacinto que pagou, já não sei bem. Só sei que teve essa iniciativa generosa quando afinal não éramos sequer amigos chegados.
Foi um gesto bonito e não esqueci…
Propunha-se o Sporting pagar-me treinos, prémios de jogos, os estudos e a pensão. Era tentador e hesitei bastante. E lembro-me de ter dormido no Lar do Sporting na Rua do Passadiço, no quarto de um basquetebolista, Garranha ou Valente, não sei bem. E vejo-me ainda, sentado num banco, nos Restauradores, olhando à minha volta, envolto no manto da noite de Lisboa. E tive medo, medo de Lisboa, medo de não triunfar, incapaz de cortar amarras, perdido, longe de Sesimbra. Nessa noite olhei à minha volta e Lisboa pareceu-me o fim do mundo, senti-me pequenino, à deriva, longe do Central, do Pinto e Pinto, da Pedra Alta, da taberna do mestre Adelino…
E fiquei em Sesimbra, mais um ano, com o velho Carlos Marques, o Leão, o Fidalgo, o Arlindo, o Áureo e os outros, em casa, em família.
Um ano depois acabei por partir para Coimbra. Depois vim para Lisboa, estive no Porto na tropa e por fim estou em Paris há 19 anos.
A percepção que nós temos das pessoas e da nossa terra tem muito a ver com o tempo e a distância.
Ao longo da nossa vida há períodos que nos marcam mais, em que somos mais permeáveis, mais receptivos. Ficamos marcados por imagens que, anos depois, talvez não nos impressionassem. Nós mudamos como a nossa terra muda embora cada um de nós conserve em si imagens ideais de um paraíso perdido. A nossa terra vai sofrendo alterações, transformações, renovações, embelezamentos, deformações enquanto nós vamos envelhecendo. Mas continuamos a fingir que acreditamos que nada ou pouco mudou, que Sesimbra é a mesma e que estamos bem conservados.
No fundo não há uma Sesimbra, há milhares de Sesimbras, uma para cada um de nós. Já o meu pai (e com certeza o pai dele, o tio Zé da Angélica) se queixava da agitação que perturbava a vida pachorrenta da nossa terra, nos tempos idílicos dos charutos na praia do tio Abel, do
Numância bem composto, das peregrinações à
Arrábida, das caldeiradas monumentais que terminavam com as histórias rocambolescas narradas pelo Antero do Pão. Era a idade de ouro, era Sesimbra longe de Lisboa, fora do mundo, a leste do paraíso…
Cada geração teve a sua Sesimbra, cada geração perdeu a sua Sesimbra mas ficou agarrada a uma recordação ideal, poetizada, retocada pela necessidade que todos temos de acreditar em alguma coisa, de nos agarrarmos a certas coisas.
Por isso continuamos a ir atrás da procissão e a sentir uma emoção intensa quando vemos o Senhor das Chagas ao ritmo compassado dos tambores dos meninos tristes da fragata D. Fernando.
Nesse instante preciso, os nossos olhos enchem-se de lágrimas, o nosso coração bate com mais força e sentimo-nos de novo crianças impressionadas pela máscara dolorosa do Senhor. E revivemos a ansiedade da chegada do primeiro camião com o material do carrossel oito, os carrinhos e as farturas, as ruas cobertas de pétalas, as colchas nas janelas, a melancolia da vila deserta no fim da procissão.
Sesimbra hoje não tem passeios, só carros a cada porta, esplanadas que devoram os largos, boutiques e restaurantes, motorizadas, ruído, agitação, praia assassinada, o Espadarte a agonizar, a droga a cada esquina…
E esta Sesimbra é bela, cheia de vida, de juventude, moderna, com os excessos próprios da mocidade. E será certamente recordada com saudade pelos jovens de hoje que não conheceram as armações, que nunca viram as barcas fundeadas de cada lado da Fortaleza, que nunca ouviram o chui na lota, que nunca presenciaram a azáfama das chatas dos almocreves, dos burros e dos curiosos num fim de tarde com o peixe estendido na areia e a noite a cair serenamente por trás do farol.
É esta a Sesimbra deles e é tão bela como a nossa, a que cada um de nós conserva em si.
Talvez possamos sentir e amar Sesimbra com mais intensidade quando vivemos longe porque dela só vemos o que nos convém, só guardamos o melhor. E se calhar amamos uma Sesimbra que já não existe se é que alguma vez existiu a não ser na nossa imaginação. A mulher que amamos é a mais bela do mundo. Para nós…
Se calhar não foi uma boa ideia terem desfigurado a Pedra Alta colocando nela uma placa cuja inscrição ninguém consegue ler e que estaria melhor cá em cima no muro, mais acessível e com a vantagem de não ter manchado a nossa Pedra. Por outro lado uma placa é como um carimbo que torna oficial, coloca o selo da realidade, mata a poesia, o sonho e a lenda.
Se calhar o erro é pensarmos que só nós possuímos bom gosto e bom senso. Não sei, se calhar o melhor é esperarmos que o verão passe, sentarmo-nos ao fim da tarde nos degraus, lá em cima a contemplar o mar que é o único que não muda, o único que é fiel, que volta em cada maré, beijando os pés à nossa terra, levando e trazendo sonhos.
A Sesimbra que eu trazia em mim naquela noite nos Restauradores é a mesma que eu vejo de Paris, imagino-a, retoco-a, amarro-a na doca da minha saudade, coloco-a no cenário do palco da Vila Amália.
Depois faço desfilar as personagens deste universo que vou recriando, vamos todos de braço dado, de rua em rua enfeitada. Que importa se já não somos assim, se Sesimbra mudou como nós que estamos acabados. Fazemos de conta e vamos andando. O Jacinto continua com ar de profeta e não sei se o Benitez era o melhor dos três argentinos. Sei que o Belenenses não voltou a ser campeão, que o Matateu está no Canadá e que a Pedra Alta perdeu a virgindade.
Mas Sesimbra será Sesimbra, um para cada um de nós, e a Pedra Alta, com ou sem placa, será sempre a Pedra Alta. Porque precisamos de lenda, precisamos de poesia e, sobretudo, de sonho…
____________* Publicado originalmente na edição de Junho de 1993 de O Sesimbrense.